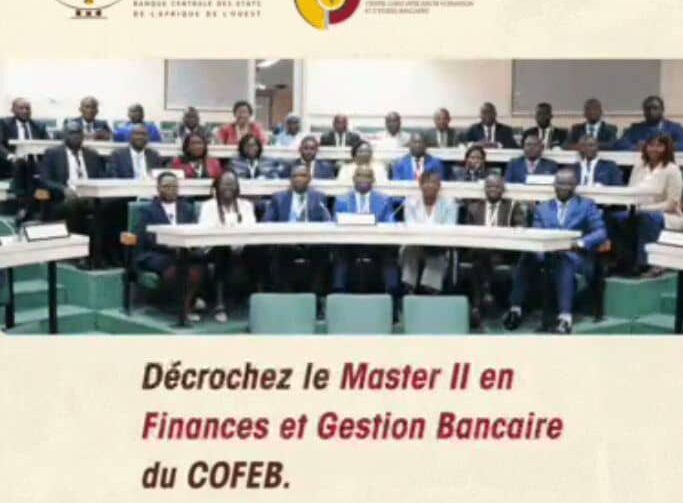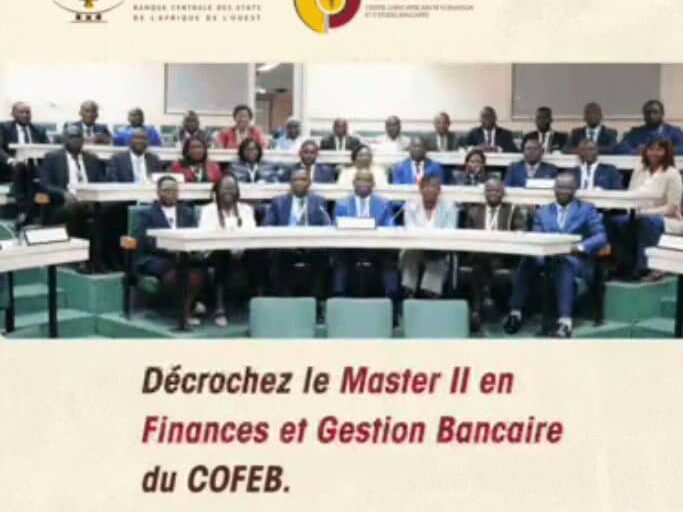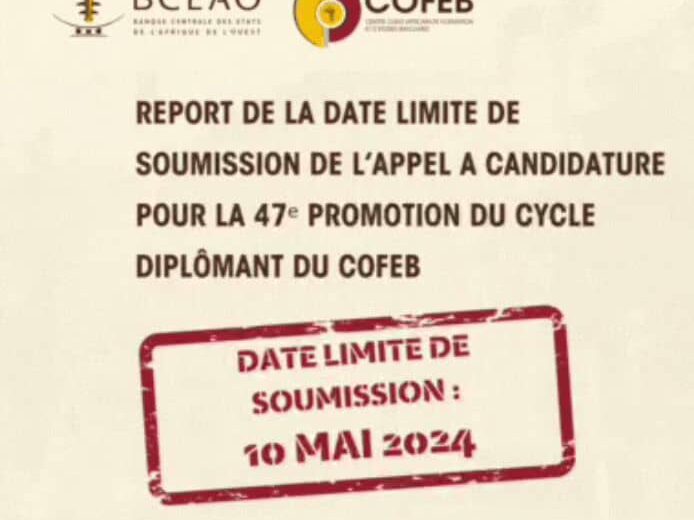“Alguns rapazes ganham fama porque têm dinheiro, e as raparigas são influenciadas pelo dinheiro. Na Guiné, há três factores para ser admirado: luxo [roupa de marca], dinheiro e o fato de ter muitas raparigas. Dinheiro é que é respeito e fama: quem cria isso é o governo e os mais velhos que vão atrás de raparigas, dão-lhes coisas… depois, quando saem do governo, isso acaba…” (grupo de jovens, Buba).
Escrever sobre uma cultura a qual não conheço em profundidade custou-me maior dedicação para pensar algo que me parecesse semelhante às minhas ligações de interculturalidade, por isso, tentei buscar um fio condutor que me parecesse familiar.
Ao refletir sobre o trecho acima, retirado de um relatório sobre a violência contra a mulher em Guiné Bissau, percebi que as semelhanças entre as realidades dos países em desenvolvimento (que eu chamaria de países economicamente dominados) são muito mais acentuadas do que imaginamos.
Antes de refletir sobre a mulher guineense precisei pensar, individualmente, nos aspectos sobre ser mulher, ser negra e ser africana, dentro de um contexto social construído sob violências, opressões, escassez de oportunidades e sob as mais variadas formas de desrespeito humano. Com um olhar sensível às variadas questões, faria a seguinte pergunta: o que poderia ser uma mulher emancipada em um contexto de “mundialização” cultural, econômica, política e tecnológica?
Sabemos que a ocupação efetiva dos territórios africanos pelas colonizações modernas, após a conferência de Berlin (1884-1885), delineou novos desdobramentos no continente a partir das novas demarcações geográficas e políticas. Dentro de uma perspectiva da teoria do sistema-mundo[1], foi a partir desse momento que os países africanos começaram produzir bens para os mercados dos países centrais. África passa a integrar, incontestavelmente, o sistema mundial. Os estados africanos integram a economia-mundo europeia e capitalista.
Segundo a tradição, a população de Guiné- Bissau teria sido originada de seis gerações (clãs), descendentes das seis mulheres de Mecau, o primeiro rei de Bissau. De acordo com o costume matriarcal, as gerações e sucessões de reinados em países como Guiné-Bissau ocorrem pela linhagem da mulher e não pela do homem. Com isso é possível perceber a importância da figura feminina, sobretudo nas instâncias social e política.
Dentro do contexto de signos e representações, a mulher africana é alguém que compõe identidade e caracteriza a estruturação social de um povo, isso não somente em Bissau, mas em todos os países africanos. Não é por acaso que o continente é repleto de representações simbólicas voltadas à “feminilidade”, a “fertilidade”, ao “acolhimento” e ao “cuidado”. Diferentemente do sentido conotado da mulher ocidental (mulher como sexo frágil), a representação da figura feminina africana está associada à “força” e à “luta”. Dessa forma, a tradição reforça a identidade cultural da mulher guineense, figura fundamental na construção social.
Na busca desenfreada por “inovação”, é preciso manter alguns princípios da tradição na retaguarda. No reinado do consumo, muitos são os que caem no engodo do “ter” para ser respeitado; pelo menos, essa é a ideia que circula principalmente entre os mais pobres que compõem a população dos chamados países em desenvolvimento (periféricos e semi-periféricos).
Não podemos esquecer que fomos ensinados durante milhares de anos a odiar aquilo que era nosso em detrimento daquilo que era “novo”: “novas vestes”, “novos costumes”, “nova cultura”, enfim… a novidade de vida nos seduziu a tal ponto que não tivemos tempo para salvaguardar o respeito ao outro, a partilha e a simplicidade, elementos de composição do ser africano.
Como bem pontuou Alioune Blondin Beye, nós temos a tendência de copiar, de maneira infantil, o que os outros fazem em vez de procurarmos no nosso passado, no nosso patrimônio histórico, cultural e político as soluções mais adaptadas às nossas necessidades.
Dados do relatório mostram que 33% das causas apontadas sobre a violência contra as mulheres guineenses devem-se ao fato de elas não terem meios econômicos de sobrevivência, principal motivo que fomenta os casamentos precoces. Apenas 9% das mulheres atribuem a violência às práticas tradicionais, e 7% às crenças religiosas.
A partir disso, ousaria dizer que os dois principais focos de ações de combate às diversas formas de violência, nos países em desenvolvimento, não estão, necessariamente, na cultura ou na tradição, estas caracterizam e identificam um povo, mas na economia, onde se deve garantir melhor distribuição de riqueza entre a população. O segundo foco de ação, e não menos importante, está na garantia do acesso à educação de qualidade para todos. Ambas as ações, de responsabilidade do Estado, contribuem significativamente para melhor Índice de Desenvolvimento Humano.
Em qualquer lugar do mundo, nada supera o poder de uma mente sã, a qual produz e difunde saberes, conhecimento e bom senso. A emancipação da mulher começa pela alma e transcende nacionalidades, se dá, primeiramente, pela consciência de quem somos e onde estamos, após isso, decidimos o que faremos.
Para mim, uma mulher emancipada é aquela que enxerga o outro, dotado de capacidades, como seu semelhante, enxerga o homem como parte do processo de construção de uma sociedade menos violenta e, inspira-se em suas raízes a virtude de gerar (não somente de modo biológico) outras mulheres capazes de transformar um povo, através de suas lutas e conquistas.
A mulher guineense possui em seu próprio meio a fonte de inspiração em sabedoria, força, inteligência e poder, é capaz de transformar o meio social em um espaço menos desigual.
Por: Vilmária Santos
Fotógrafa e jornalista. Doutoranda em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho.
Referências:
- Venâncio, J. C. (2009). O fato africano. Elementos para uma sociologia da Africa. Massangana: Recife.
- Roque, S. (2011). Um retrato da violência contra mulheres na Guiné-Bssau.
- Garrafão, Y. V. M.; Subuhana C. (2018). O casamento tradicional na Guiné-Bissau : o K ’ mari na etnia Papel.
Maio de 2018
———————————–
[1] Teoria desenvolvida por Immanuel Wallerstein no livro “O Sistema Mundial Moderno”, publicado pela primeira vez em 1990. Para o autor, a estrutura econômica internacional resulta na divisão do mundo em três estamentos hierárquicos, são eles: centro, periferia e semiperiferia.