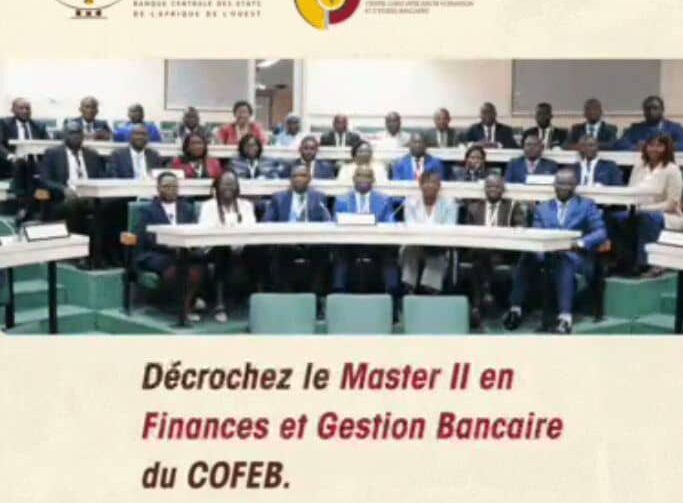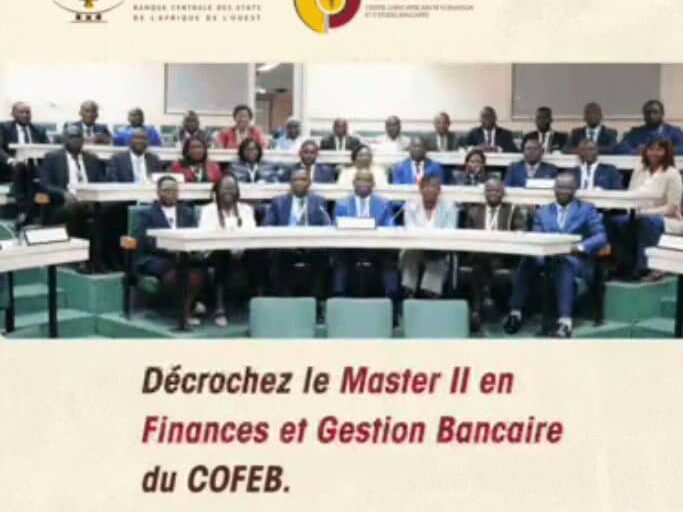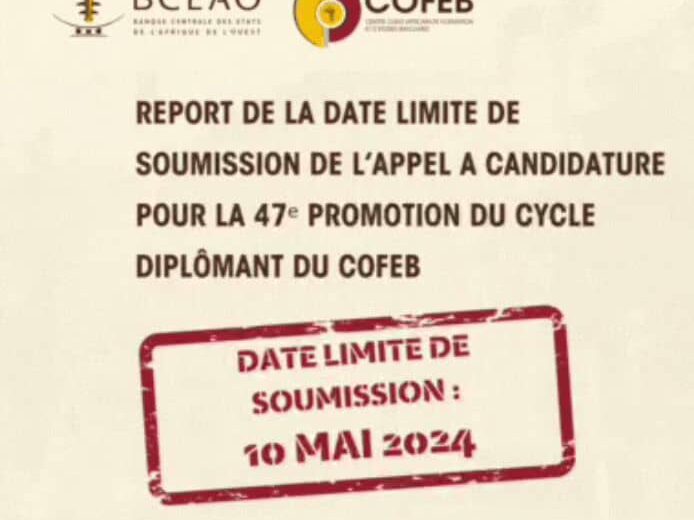Este artigo visa (desconstruir) a narrativa, que promove o “distanciamento” dos países do Hemisfério Sul, (outrora chamados do terceiro mundo ou países periféricos) do “conceito do desenvolvimento”, como se de simples conceito ocidental se tratasse.
A problemática do (desenvolvimento), muito além da sua componente simbólica, tem sobretudo a componente material (ou melhor, palpável), que se pode medir através dos investimentos na edificação de estruturas que fundamentam a formação bruta de capital fixo, que representa os investimentos realizados em ativos fixos, ou seja, bens que são utilizados repetidamente na produção, e que têm uma vida útil superior a um (1) ano. A construção de estradas é um excelente exemplo paradigmático.
Ora, constata-se que, de uma forma “simplista”, ou porventura, por causa das “coisas nossas” de deitar tudo para baixo, ultimamente, assiste-se um debate sobre a problemática do (desenvolvimento), na perspectiva de construção e de reconstrução de infraestruturas de base no país, que nos viu nascer – Guiné-Bissau.
É, amplamente, reconhecido que o (desenvolvimento), enquanto um ideal a ser seguido ou uma área de estudo, tornou-se uma temática marcante, principalmente, no período pós-Segunda Guerra Mundial (1939-1945), face ao contexto de descolonização e de amplas transformações políticas e económicas no cenário internacional.
Contudo, a preocupação do período pós (1945) com o (desenvolvimento), institucionalizada na agenda global com a criação de diversas agências e organizações internacionais (i.e., PNUD), deve ser entendida a partir de um olhar para a história das ideias, dos debates e tensões conceituais que perpassam a construção do desenvolvimento enquanto conceito e/ou área de estudo.
Nesse sentido, o (desenvolvimento) não é abordado, neste artigo, como um produto do fim da Segunda Guerra Mundial, mas ele é discutido como uma noção que, apesar de ter ganhado maior destaque na agenda internacional no período pós-guerra, é fruto de um processo de evolução histórica de ideias e instituições que se desenvolveram ao longo de vários séculos, principalmente no mundo ocidental.
Robert Nisbet (1969) entende que a noção de (desenvolvimento) não deve ser encarada como um conceito “rígido”, susceptível de ser provado e explicado por meio da racionalidade científica, mas sim como simbólica. Muitas das concepções de mundo são criadas a partir de imagens e entendimentos que muitas vezes são sintetizadas por meio de metáforas, e nesse sentido, o simbolismo do (desenvolvimento) é um dos mais poderosos no pensamento ocidental, responsável por consolidar uma estrutura de pensamento que, em certa medida, perpassou os povos gregos, a sociedade cristã e culminou como base de formação do mundo moderno.
Do ponto de vista académico, o discurso da modernização é de fato o discurso que se tornara dominante nos debates teóricos e na agenda política em meados do século XX, no entanto, não era a única voz ressonante nos debates da época. Entre as críticas e alternativas que ganharam destaque no período, vale destacar a contribuição da teoria da dependência, uma das principais teorias desenvolvidas na periferia do mundo (usando a terminologia mais em voga, Hemisfério Sul).
Enquanto a teoria da modernização entende o (desenvolvimento) e o (subdesenvolvimento) como uma diferença interna dos países, que se encontram em diferentes estágios no processo do (desenvolvimento), a teoria da dependência entende esta dicotomia como algo interdependente. A perspectiva vai de encontro com a premissa de que todas as sociedades passam pelos mesmos estágios de evolução, portanto, os países mais atrasados se encontrariam, hoje, na mesma situação em que as nações evoluídas se encontravam no passado, e por isso, a opção seria seguir o caminho comum para o (desenvolvimento), adotando uma série de medidas como: investimento, tecnologia e integração aos mercados globais.
Em linhas simples, diríamos que as “rodas do desenvolvimento” já foram inventadas há muito tempo, felizmente. Os conceitos, contudo, podem até variar ou mudar, de acordo com as circunstâncias e as geografias onde os debates são promovidos.
Sem sombra de dúvida, a Guiné-Bissau, enfrenta, neste momento, um período interessante, em termos de investimento em infraestruturação, com reflexos no dinamismo do sector do turismo, nos transportes, na mobilidade urbana entre as principais cidades e regiões do interior do país.
No entretanto, os teóricos da dependência rejeitam esta concepção, argumentando que os países mais pobres não são apenas versões primitivas dos países ricos, mas, encontram-se na condição de pobreza devido a características particulares dos próprios países e a condicionamentos estruturais (Di Marco, 1972).
Este debate não é propriamente novo, na medida em que uma das primeiras manifestações teóricas que argumentavam sobre a dependência estrutural dos países pobres em relação aos países ricos foi o trabalho de Raul Prebisch.
A Comissão Económica para América Latina e Caribe (CEPAL), criada em 1948, no âmbito das Nações Unidas, foi a esfera institucional onde Prebisch lançara um dos primeiros trabalhos sobre a relação desigual do comércio internacional e seus efeitos sobre os países periféricos.
Para o autor, os benefícios da divisão internacional do trabalho se concentravam nos países centrais, não atingindo a periferia do mundo, deste modo, o autor critica a premissa de que a divisão internacional do trabalho seria capaz de alocar os benefícios do comércio mundial de uma forma equilibrada.
A grande razão para tal acontecimento seria a deterioração dos termos de troca, conceito que se refere aos desequilíbrios gerados devido à exportação de produtos primários pelos países periféricos, e a importação de produtos industrializados. Como os produtos primários possuem baixo valor acrescentado, os países periféricos teriam que exportar uma quantidade enorme de produtos para compensar os gastos com as importações de produtos com alto valor acrescentado. Quanto a esta configuração, quaisquer semelhanças com relação à dependência (estrutural) da economia nacional face à castanha de caju na Guiné-Bissau, por exemplo, não é simples coincidência.
Esta situação faz com que os benefícios do comércio internacional se concentrem nos países centrais, que por possuírem maior produtividade e tecnologia, exportam produtos de alto valor acrescentado.
Esta argumentação de Prebisch pode ser considerada uma das primeiras manifestações do que se convencionou chamar, posteriormente, de teorias da dependência, que apesar de não ser formada por um corpo teórico homogéneo, e ainda bem, possuem a premissa básica de que o intercâmbio desigual de mercadorias não permite que os países periféricos obtenham os recursos necessários para seu desenvolvimento, perpetuando a condição de atraso em relação aos países centrais.
A CEPAL foi importante para o desenvolvimento do conjunto de ideias que estava sendo produzido na periferia do mundo, pois ela fornecera um ambiente institucional no qual as teorias puderam ser organizadas e debatidas de maneira mais sistemática. Nesse sentido, a CEPAL difundiu um conjunto de perspectivas e ideias a respeito das possibilidades e obstáculos do desenvolvimento latino-americano, em concreto, tornando-se uma instituição mundialmente reconhecida como o seio do pensamento económico latino-americano.
No entanto, como foi dito anteriormente, o pensamento desenvolvimentista que crescera na periferia durante as décadas de 50 e 60 não formavam um corpo homogéneo, possuindo diferenças significativas sobre quais seriam as melhores políticas para fomentar o desenvolvimento e a modernização na periferia.
Raúl Prebisch, bem como o brasileiro Celso Furtado e outros “cepalinos”, defendiam um projeto de modernização através do modelo de substituição de importação.
Por outro lado, muitos dos teóricos da dependência, como Gunder Frank (1966) e Samir Amim (1987), argumentavam que este projeto não seria suficiente para acabar com a situação de atraso e dependência dos países periféricos em relação aos países centrais. Para estes autores, o (desenvolvimento) dos países centrais, era o ponto crucial para a permanência do (subdesenvolvimento) na periferia, pois, através do intercâmbio desigual, se produzia um mecanismo constante de extração do excedente produzido na periferia, que para estes teóricos, pode ser entendido como uma espécie de exploração internacional.
Assim sendo, o modelo de (desenvolvimento) deveria ser estabelecido na ativa participação do Estado, visando à acumulação de riquezas no interior do país e resistindo as pressões do capital internacional.
Em suma, diríamos que é preciso salientar que o (desenvolvimento das capacidades produtivas) dos países (nunca) dispensou o papel do Estado, quer nos países periféricos, quer nos países centrais, na justa medida em que o (desenvolvimento) é, por conseguinte, um resultado concreto de um conjunto de políticas públicas, que impacta a vida das populações – nomeadamente, o investimento no capital humano, nos hospitais de referências, em infraestruturas escolares, nas estradas, nos portos, nos aeroportos, “tout court”.
Por: Santos Fernandes
abril, 2025
Referências:
Furtado, Celso. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Contraponto, (2009).
Frank, Gunder. Desenvolvimento do Subdesenvolvimento Latino-americano. Monthly Review, vol. 18, nº 5, (1966).
Amin, Samir. Imperialismo e Desenvolvimento Desigual, São Paulo. Editora Vértice, (1987).